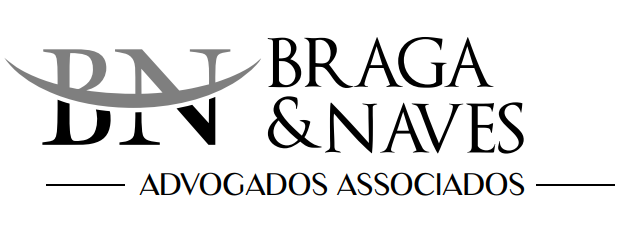A família no direito é a materialização do direito de família. É a ordem empírica das relações sociais que entram em contato com a lei. E a lei, quando passou a tutelar outras formas de família, além daquelas constituídas pelo casamento civil, abriu o sistema de justiça para as classes sociais anteriormente excluídas de seu âmbito de regulação. Se a leitura do Código Civil era o bastante para identificarmos essa exclusão, isso não é mais suficiente. Hoje, essa questão pode ser mais bem compreendida se considerarmos o acesso desigual à justiça e ao direito.
Para a delimitação desse problema, consideremos o significado de família num sentido amplo. Para Lévi-Strauss, a palavra família é de uso tão comum, e refere-se a um tipo de realidade tão ligado à experiência cotidiana, que poderia pensar-se que o estudo a respeito da família trata de uma questão simples e óbvia. Todavia, o que parece simples e óbvio ao leigo, não o é para o cientista. É por isso, segundo o autor, que nos estudos de família encontramos uma definição julgada ideal e utilizada para questionamentos mais profundos a respeito desse núcleo social aparentemente tão natural. Lévi-Strauss escreve que a palavra família é empregada para designar um grupo social que possui, pelo menos, as três características seguintes:
1) Tem a sua origem no casamento. 2) É formado pelo marido, pela esposa e pelos filhos nascidos do casamento, ainda que seja concebível que outros parentes encontrem o seu lugar junto do grupo nuclear. 3) Os membros da família estão unidos por a) laços legais, b) direitos e obrigações econômicas, religiosas e de outro tipo c) uma rede precisa de direitos e proibições sexuais, além de uma quantidade variável e diversificada de sentimentos psicológicos tais como o amor, afeto, respeito, temor etc. (Lévi-Strauss, 1980, p. 6)
Ora, no âmbito das transformações do direito, os laços legais, ou melhor dizendo, a legitimidade das relações sociais, como uma das formas de reconhecimento social da família, passou a contemplar diferentes grupos sociais. Ainda mais se considerarmos que, às características apresentadas por Lévi-Strauss, é possível acrescentar a adoção civil que, no Brasil, tem sido deferida também em favor de casais homossexuais e pessoas solteiras e não necessariamente para “marido e esposa”. Mas, o que é importante deixar assinalado, é o fato de que a lei não só expandiu os significados de família, mas também fez com que tais significados pudessem ser legitimados por meio da Justiça. Até a vigência da Constituição Federal de 1988, a “família legítima” só poderia existir com o casamento civil, um ato extrajudicial. Mas depois dessa Constituição, além da família formada pelo casamento civil, passaram a ser reconhecidas as famílias monoparentais e as formadas pela união estável entre homem e mulher. Todavia, para que essas duas últimas sejam legalmente reconhecidas, é preciso recorrer à Justiça. Mas nem todos podem fazê-lo. Eis, portanto, o ponto de travessia da fronteira que separava a questão social presente na ordem constitutiva de nossa legislação da esfera da organização social da Justiça. É preciso deixar claro que o reconhecimento legal da família pela Justiça, considerados os núcleos monoparentais e as uniões estáveis, é somente uma das modalidades de sua institucionalização estatal. Existem outras formas para tanto. Elas podem ser procuradas em nosso direito previdenciário, nos programas de distribuição de renda, de acesso à terra e à saúde, por exemplo.
Mas como descortinar o atual universo das formas de reconhecimento legal da família diante da diversidade de relações sociais que estão ao seu alcance? Para responder a essa pergunta é necessário considerar as formas de acesso à justiça, no sentido formal que essa expressão assume quando diz respeito à igualdade no acesso à representação judicial. Nas palavras de Cappelletti e Garth: o “acesso não é apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido: ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna processualística” (1988, p. 13). Sua expressão mais acabada é o processo judicial, meio pelo qual se unem as pessoas que buscam a solução de um litígio àquelas que estão autorizadas a apreciá-lo. O processo judicial é, portanto, uma das ferramentas de análise dos fatores que influenciam o nível e o tipo dos litígios apresentados aos tribunais. Para Santos et al. (1996), esses fatores estão relacionados com o grau de desenvolvimento econômico e social, a cultura jurídica e as transformações políticas, subentendidas, nesse nível, também as legislativas. Mas, segundo os autores, existem também os microfatores específicos, que dizem respeito às características de autores e réus nos processos, à forma pela qual ambos são afetados pelos custos judiciais e extrajudiciais do litígio e aos diversos tipos de racionalidade utilizados para que suas pretensões sejam atendidas. Todos esses fatores se entrecruzam no universo de relações potenciais que dão impulso ao acionamento da Justiça.
Dos macro aos microfatores, o grau de desenvolvimento econômico e social é um dos elementos mais explorados na análise do desempenho judicial como função política central do Estado contemporâneo, embora a procura pela Justiça não se esgote na racionalidade econômica (Idem). A partir dele, é possível medir o desempenho do Judiciário e estabelecer correlações com os dados da oferta e da procura dos serviços prestados nos tribunais, os quais são expressos em números da movimentação processual. O resultado dessa correlação aponta para aspectos intrinsecamente ligados, tanto para os que determinam a conduta dos acionadores do sistema de justiça como para os sistêmicos próprios da organização do Judiciário (Idem).
Quanto mais baixo o nível socioeconômico, menor é a chance de uma pessoa interpor uma ação judicial (Cappelletti e Garth, 1988; Santos et al., 1996; Sadek, 2001). Isso produz efeitos não somente na quantidade de processos distribuídos. As diferenças socioeconômicas produzem também diferenças qualitativas que se traduzem nos tipos de processos mais frequentes em função de determinadas características da população. A distribuição do direito e da justiça, portanto, tem estreita relação com a desigualdade socioeconômica.